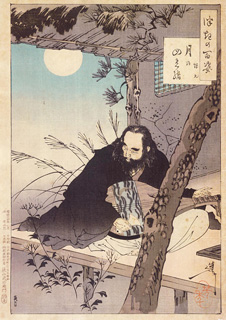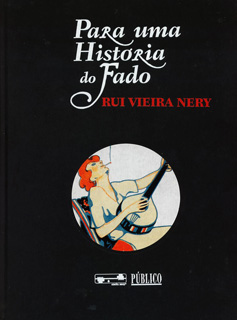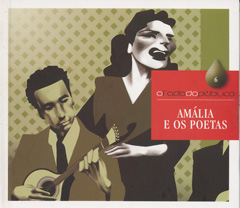Revisitar Emoções
Retornar à Bélgica e ao Portugal de meu sangue é sempre prazeroso, pois revisito sensações musicais e olhares amigos. A ansiedade só existe quando o local é desconhecido. Este, ao tornar-se familiar, apenas caracterizará expectativa de novos encontros.
O ato voluntário de hoje preferenciar pouquíssimas apresentações públicas, que ocorrem basicamente no Exterior, seria conseqüência de longa reflexão a respeito da música e de sua importância em minha vida. Se o estudo pianístico permanece um norte, gravação e repertório são decorrências e continuam a povoar meu universo sonoro. Sob aspecto outro, há determinadas fases da existência em que bifurcações na senda trilhada fazem-nos escolher um caminho a apresentar paisagens que imaginávamos existir, mas diversas de outras tantas, fosse diferente a estrada. Esta pode ser plena de gente, iluminada, mediática, provavelmente a expor pouca margem à introspecção. Aquela, voluntariamente serena, a evidenciar o que sabemos amar, fulcro da paz interior acalentada e perene meta a ser atingida. Cada CD gravado na planície flamenga, na milenar Capela de Sint-Hilarius, em Mullem, é um ato de afeto. Toda a longa preparação tem datas e horários previstos com um ano a anteceder o encontro. Atravessar o oceano para esse amálgama, que só entendo se absoluto, leva-me à felicidade de antever momentos únicos, quando busco os meus limites na interação com as reverberações que Sint-Hilarius me proporciona.
Haverá os recitais em Gent, um integrando a temporada da Rode Pomp, o outro para crianças. Após, curso em Lisboa e recitais em Évora, Coimbra e Braga. Estarei atento e a escrever posts para o blog. Em São Paulo, Magnus e Regina Maria cuidarão das inserções com competência e dedicação. Minha filha Maria Fernanda deverá encontrar-se com o pai em Lisboa, e idéias não faltarão para seus desenhos.
As viagens do ano passado resultaram em textos. Eles continuarão a surgir, pois o olhar estará a observar as transformações dos lugares, das pessoas e as nossas também. Cada ano acumulamos sensações que provocam o sentir diferentemente. O certo, contudo, é reencontrar intensidades emotivas permanentes, pois as mudanças, quando fidelidade na amizade existe, não atingem essencialidades.
Possivelmente escreverei posts mais curtos, devido à imprevisibilidade do tempo disponível. Serão constantes, porém. Quebrada a rotina, está-se a mercê do imponderável. Novamente, buscarei acentuar mais o que me causa emoção àquilo que, mesmo a provocar impacto, pode ter tido germinação fugaz. Que sejamos cúmplices nessa nova peregrinação sonora e visual.
Emotions Revisited:
Once more a fly to Belgium and Portugal for recitals and to record a new CD. My posts will not be interrupted, but will be shorter and more frequent. Let us be partners in this new experience.