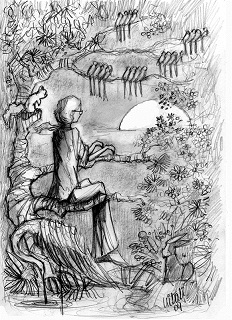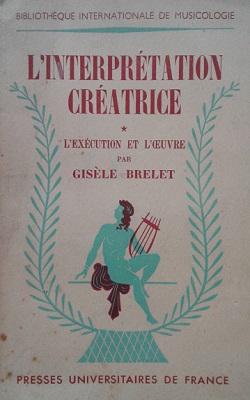A partir do “trailer” de “O Labirinto da Saudade”
Em todo o caso, que se sinta só;
mas não vá supor que é muito grande;
da sua grandeza, se a tiver real,
fará parte o supor que os outros são pequenos.
Agostinho da Silva
(“Entrevistas”)
Recebi de dileto amigo português, o arquiteto António Menéres, “trailer” do filme de Manuel Gonçalves Mendes, “O Labirinto da Saudade”, a partir do livro homônimo do notável filósofo, ensaísta e professor Eduardo Lourenço (1923- ). Denominado “O Bar da Eternidade”, essa pequena e substanciosa cena de quatro minutos revela temas fulcrais da existência. Há um diálogo de extrema relevância entre Eduardo Lourenço e uma figura igualmente ilustre da cultura em Portugal, o arquiteto Álvaro Siza Vieira (1933- ).
Inicialmente Siza Vieira questiona: “O que ficará de nós, homens e mulheres, se é que alguma coisa fica, quando partirmos em férias?” a receber do filósofo: “Quem dera que a resposta à sua pergunta fosse essa tão lírica e tão futurante como o partir em férias. A nossa própria morte é-nos tão hostil que nós nem em sonhos morremos. A morte verdadeira é a do outro. A do outro que existiu para nós. Que foi tudo para nós, que foi o absoluto para nós. E essa que é a morte real. As outras mortes são ilusórias, mesmo a nossa, sobretudo a nossa”.
Segue-se um diálogo enriquecedor em torno da vida e da morte, das incertezas a envolver a complexa dialética em torno da passagem inexorável, mormente se considerada for a etariedade dos insignes envolvidos.
Siza Vieira observa nada sabermos sobre nascimento, vida e morte, mas sim sobre continuidade através das gerações que se sucedem, “continuidade da vida, e quando um de nós morre há filhos, netos, música para músicos, artes, escrita, literatura… Não desaparecemos completamente. O mundo continua. A História, no fundo, tem esse papel de sugerir ou de fazer real uma continuidade, agora a morte não”. A colocação de Siza provoca resposta essencial de Eduardo Lourenço: “O problema é que, consciente ou inconscientemente, escrevemos como se fôssemos eternos. Sem essa ilusão de eternidade como coisa nossa, nós não escreveríamos nada de realmente grandioso. O que os homens querem é que aquilo se transfigure numa espécie de estátua, que se pode tocar, viver e permanecer através dos séculos”. Após louvar Siza Vieira, dele recebe o testemunho: “Eu faço os meus projetos com a ideia de que… essa ideia de que é para ficar. Mas pensando friamente, não é bem assim. Também a construção, muitas vezes, não é durável. É vulnerável…”. Eduardo Lourenço de imediato afirma: “Hiroshima existia e foi destruída em nove segundos. É como se fossem feridas que a Humanidade faz a si mesma, não é? E essas sem reparação. Porque foram destruídas e não podem ser reconstruídas de nenhuma maneira. Aquilo que de mais belo há na humanidade é que nós somos submersos às mesmas forças que regem realmente o mundo. Porque é que nós escaparíamos, quando tudo o que foi criado está condenado a desaparecer?”, conceitos concluídos por Siza Vieira: “E se assim não fosse talvez se tornasse insuportável”.
Consideremos as observações sobre o legado, esperançosas inicialmente por parte de Siza Vieira, mas com a ressalva “… não é bem assim”. Por sua vez, Eduardo Lourenço, mais cético nesse item, diz “… tudo o que foi criado está condenado a desaparecer”.
O legado de obra física sempre foi mais vulnerável ao desaparecimento através dos séculos. São incontáveis os monumentos, obras de arte, pinturas, bibliotecas que sucumbiram ao tempo por causas naturais, intencionais ou imprevistas. Alguns exemplos são implacáveis: Biblioteca de Alexandria, no período helenístico, teria sido destruída pelo fogo; Biblioteca Real de Lisboa arrasada durante o terremoto de 1755, assim como inúmeros monumentos históricos da cidade; Catedral Notre-Dame de Reims semidestruída pelos bombardeios alemães na guerra 1914-1918; pinturas de Manabu Mabe, que seriam expostas em grande retrospectiva no Japão, perderam-e em acidente aéreo em 1978; O Templo de Baalshamin, edificado no início do primeiro milênio, explodido pelos integrantes do então denominado EI em 2015; Museu Nacional do Rio de Janeiro e seu extraordinário acervo consumido pelo fogo em 2018, assim como parte considerável da Catedral de Notre-Dame de Paris bem recentemente. O tempo inexorável corroeu tantas obras arquitetônicas na Grécia e na Roma Antigas, assim como na Península Ibérica e em muitos outros pontos geográficos. Considere-se ainda a ação de descaso de tantas autoridades espalhadas pelo mundo, que pouco fazem para a conservação de obras de arte expostas às intempéries.
Esses poucos, mas significativos exemplos, ratificam o posicionamento de Eduardo Lourenço. Contudo, exceções ou exceção há nesse legado. Pensando-se na literatura e na música, verifica-se que a herança não se atém à obra de arte material inerte que habita galerias e museus e é vista por legiões de frequentadores. Walter Benjamin, no ensaio publicado em 1936, “A obra de arte na era da sua reprodutividade técnica”, já argumentava que a reprodução em tantos formatos de uma obra de arte causou a perda da “aura”, depreendendo dessa constatação, a autenticidade. O hic et nunc desapareceria para sempre. Considere-se que a obra de arte material, única e autêntica, nessa categoria incluindo-se a pintura, a escultura e a arquitetura, tem sofrido constantemente o lento e inexorável desaparecimento.
Quanto à literatura, ela independe da presença física dos manuscritos, pois obviamente subsiste sem contestação através da reprodução. Os museus, arquivos e bibliotecas dão a guarida necessária aos textos originais, majoritariamente distantes do público leigo e consultados por especialistas quando se faz necessário. Portanto, perdurarão em edições divulgadas em versões para tantas línguas. O teatro, que traduz em cena o que reza segmento literário, vive do intérprete, ou seja, do ator. Este é geograficamente regionalizado, pois sua atuação é realizada frente àqueles que compartilham o mesmo idioma. Sua internacionalização é basicamente exígua, sendo que o texto teatral não o é, pois vertido para outros idiomas encontrará atores de outros países para divulgá-lo e o legado estaria garantido.
Seria a música a única área em que o legado estaria salvaguardado geograficamente em sua abrangência territorial plena. Os sons são compreendidos em todos os rincões e o amálgama compositor-intérprete não tem fronteiras. Todos os povos compreendem a unicidade da Música.
Partituras, assim como textos literários, podem subsistir sob a proteção de entidades que os abrigam. Se essas desaparecerem por múltiplas razões, a reprodução ad infinitum garante parte essencial de acervos, perenidade pois. Para a interpretação o legado teria tempo finito, pois mesmo a saber que processos tecnológicos estariam sempre in progress, haverá um momento, acredita-se, que distorções sonoras quanto às centenárias gravações ocorrerão, como já acontece com muitos registros fonográficos das primeiras décadas do século XX. Saliente-se que extraordinários avanços tecnológicos têm conseguido resultados surpreendentes quanto às antigas gravações.
Num outro patamar, a arte cinematográfica seria aquela, talvez, que mais tem sofrido a ação do tempo. Quão mais antigos os filmes de qualidade, mais ficam restritos a públicos especializados, admiradores da arte específica. Para o grande público, ávido do novo, mais acentuadamente se processa o distanciamento com o passado cinematográfico. Contudo, igualmente no caso, o legado estaria garantido mercê de processos novos, que têm conseguido êxito na restauração de originais. Sob outra égide, o filme se internacionaliza através das legendas ou das dublagens, estas sempre lamentáveis.
Nada sabemos sobre a duração do planeta. Incógnita. A destruição sistemática das reservas naturais, os conflitos os mais generalizados movidos por motivos de várias ordens: religioso, ideológico, racismo; guerras intestinas e terrorismo; descaso; a decadência dos costumes, tudo não estaria tornando a terra uma gigantesca panela de pressão com mínimo escape? Para os mais pessimistas, toda discussão em torno do legado esbarraria nessa desesperança. Todavia, a presença constante da morte, mors certa hora incerta, assim como a necessidade de se pensar em legados, ainda movem a humanidade, apesar da sábia advertência de Eduardo Lourenço: “Porque é que nós escaparíamos quando tudo o que foi criado está condenado a desaparecer?”.
This post discusses views about life, death and human legacy to History. It was inspired by a conversation between philosopher Eduardo Lourenço and architect Álvaro Siza Vieira, two of the most influential Portuguese intellectuals of the 20th and early 21st centuries.