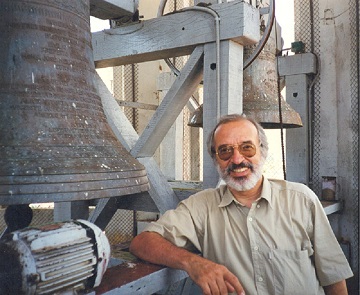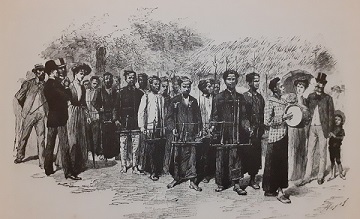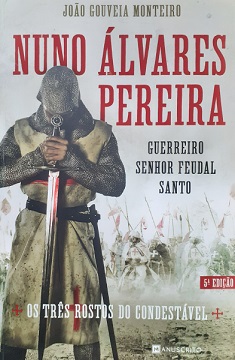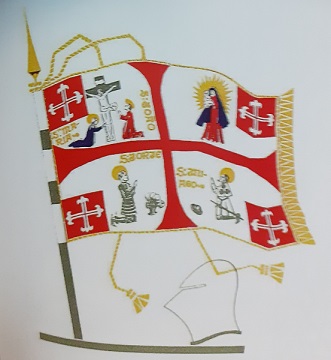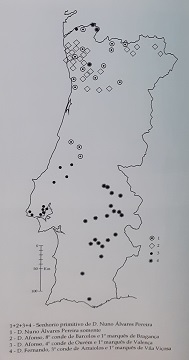Os que dela não gostam são raros
Se, de todas as artes, a música é a mais acessível,
não é pelo fato de ser mais cosmopolita,
mas sim por ser cósmica em sua natureza.
Ignaz Paderewski (1860-1941)
Ao longo da existência conheci duas pessoas que realmente não gostam de música. Não a detestam, apenas têm por ela indiferença. Foi com surpresa que, no início deste ano, ao encontrar na feira-livre que frequento desde os anos 1960 um velho amigo que não via há tempos, disse-me ele que segue assiduamente meus blogs, repassando-o aos seus conhecidos, mas nunca acessa os links que insiro com gravações diversas, muitas retiradas de meus CDs. À minha pergunta a querer saber a razão, recebi resposta tranquila, mas certeira. Disse-me que a música sempre lhe foi absolutamente indiferente e que nada lhe transmitia, seja ela a que gênero pertença, erudito ou popular.
Esse posicionamento existe e responde, em termos, às palavras de Franz Liszt (1811-1886), que, em carta à Condessa d’Agoult (1805-1876), com quem viveu durante alguns anos, tendo com ela três filhos, afirmava que “há almas que amam os sons”. Liszt não generaliza e as escassas exceções existem.
Um dos autores que se debruçou sobre o tema, o musicólogo francês Paul Roës, em seu livro “La Musique – Mystère et Realité” (Paris, Lemoine, 1955), aborda essa não apetência pelas “ondas sonoras”. Idealiza dois amigos que passeavam na praça San Marco em Veneza e que, após diálogo sobre tema espinhoso, continuaram silenciosos a caminhar, pois um abismo os separava. Roës descreve a cena em que um deles “acabara de reafirmar que era completamente desprovido de qualquer senso musical, e essa afirmação soou como uma ofensa aos ouvidos do outro, o músico. Este repetira muitas vezes que a ausência de qualquer senso musical é tão rara, que não há quem seja totalmente dele desprovido. Cansado de reiterar seus argumentos, reportou-se a Shakespeare, que, ácido, descreve em ‘O Mercador de Veneza’ a insensibilidade em relação à música quando o personagem Lorenzo responde à filha de Shylock: ‘Você diz que nunca está feliz ouvindo a doce música? E bem, o homem que não tem a música dentro dele, que não é tocado pela bela harmonia, esse homem é propenso às traições, às intrigas, às querelas e aos roubos; os impulsos de seu espírito são obscuros como a noite, suas afeições de alma, sombrias como o Erebus… desconfiemos de tal ser…’. Paul Roës divaga a seguir em sua história, a dizer que “Subitamente um sino de tom grave soou no campanário de San Marco. A pujança do som de bronze surpreendeu os dois amigos e balançou suas divergências; a brusca sonorização provocou a revoada dos pombos, que fugiram assustados da praça”. O badalar sucessivo dos outros sons em tons diversos, o ambiente, a atmosfera do verão, a progressiva extinção sonora até o silêncio incitam o não músico a afirmar: “Experimento uma sensação bem estranha, os sons dos sinos me sugeriram um recuo no tempo como se vivesse num longínquo passado, séculos e séculos atrás…”, frase seguida das considerações do músico “Estou surpreso… feliz por suas palavras e encantado pelo fato de o amigo ter descoberto aquilo que eu denomino uma profunda musicalidade”. Essa narrativa faz lembrar outra “conversão” em termos distintos, a de Paul Claudel à religiosidade no interior grandioso de Notre Dame em Paris.
Clique para ouvir o repicar dos Sinos do Campanário da Praça San Marco em Veneza:
O pensamento de Shakespeare se insere numa peça e obedece ao contexto. Os raros que simplesmente são indiferentes à música não sofrem das desordens mentais apontadas em “O mercador de Veneza”. As únicas pessoas que conheci que são indiferentes à música não têm a mínima semelhança com a figura teatral proposta pelo imenso dramaturgo, poeta e ator inglês. Contudo, há nuances. Meu amigo acima mencionado, após minha insistência na indagação sobre gêneros musicais, mormente sendo ele brasileiro, sob forte presença dos ritmos pátrios durante quase todo o ano, ratificou que para ele não faziam diferença alguma, quaisquer músicas ou ritmos, simplesmente tudo lhe era indiferente. Não obstante a resposta incisiva, afirmou-me que gostava de poesia, ao que retruquei a dizer que, segundo o notável poeta e escritor Guerra Junqueiro (1850-1923), “a música é poesia incorpórea”.
Ao consultar sites do hemisfério norte, verifiquei que pesquisas científicas recentes (1993) têm demonstrado que essa dificuldade ou incapacidade das raras pessoas que não sentem satisfação ao ouvir música é uma condição neurológica. Mais recentemente (2011), atribuiu-se a designação “anedonia musical”. A não apreciação ou mesmo o gosto musical podem estar ausentes por completo, sem que, paradoxalmente, aquele que se insere nessa condição não possa distinguir gêneros musicais e mesmo analisá-los, mas permanecendo indiferente à escuta musical. A “anedonia musical sem danos cerebrais” não tem disfunções do cérebro e atinge de 3 a 5% da população. Entretanto, a “anedonia musical adquirida” devido a danos ou traumas cerebrais tem porcentagem ainda menor. O fato de ter conhecido até o momento apenas três pessoas nessas condições se enquadra na estatística mencionada.
Num aprazível café de nosso bairro fiz inúmeras perguntas ao amigo citado acima, quando de um “longo” curto na semana que ora finda. Queria saber mais sobre a sua condição. Perguntei-lhe sobre outras artes e também não se mostrou minimamente entusiasta. Quanto à literatura, é um devorador de livros, preferencialmente em inglês e norteados nas temáticas aventura, suspense e… poesia. Longe de ser uma pessoa expansiva, é muito inteligente e lê em vários idiomas, mas é um tanto quanto misantropo. Revela franqueza em não ter o menor apreço pela música como um todo, sendo, porém, uma pessoa que admiro pela cultura, fala impecável a preservar a língua portuguesa, hoje tão sofrida nos meios de comunicação. Em acréscimo, conduta e lhaneza que tem para com este amigo músico, sendo que a indiferença às “ondas sonoras” não interferiu minimamente no diálogo substancioso que mantivemos.
Ao nos despedirmos ainda ousei uma última pergunta. “Dos blogs que assiduamente o amigo lê, nenhum link musical deveras o interessou?”. A sorrir, sem outras intenções duvidosas, respondeu “nenhum”. Sem dúvida aprendi o elementar sobre a rara “anedonia musical”, que, confesso, desconhecia nesses termos revestidos pela ciência, pois só ultimamente tem sido estudada com profundidade.
Na consulta aos sites especializados verifiquei que pesquisadores da Northeastern University, em Boston, fizeram investigações sobre música e cérebro e ações que pudessem alterar o relacionamento social. Há possibilidades de que imagens do cérebro de um autista tenham semelhanças com aquelas dos que se enquadram entre os raros com “anedonia musical”. Outros estudos revelariam que determinados tratamentos, tendo a música como base, podem ser utilizados tanto para a “anedonia musical” como para a depressão.
I have known in the course of my existence only three people for whom music is totally indifferent. Educated, intelligent people who appreciate literature and poetry, but to whom “musical sound waves” say nothing. For three decades researchers in the northern hemisphere have been studying this subject, and more recently, in 2011, they gave a name to this brain disfunction: “musical anhedonia”.