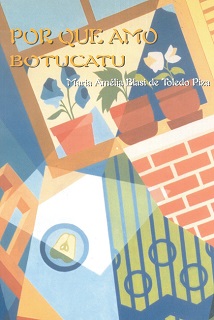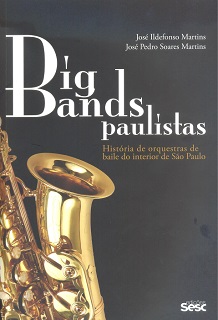Crônicas singelas e envolventes
Há livros que resultam em mais do que livros.
São rituais de um culto centrado em certo pedaço do mundo;
são chamados à vida de pessoas interessantes que morreriam de fato
se não fossem assim evocadas;
são poemas de bem querer ideados com talento e escritos com elegância,
mente clara e coração acelerado.
Este livro, o de Maria Amélia Blasi de Toledo Piza é um deles.
Hernâni Donato (1922-2012)
(Membro da Academia Paulista de Letras)
Botucatu é cidade que pertence ao meu universo de afetos. Dediquei-lhe posts nesses 11 anos de blogs ininterruptos. Desde 1954 lá me apresento, sempre a ter a renda total dedicada à Vila dos Meninos, obra fundada pelo meu saudoso padrinho de crisma, o ilustre prelado D. Henrique Golland Trindade, arcebispo de Botucatu.
Meu último recital deu-se em 2013, no auditório da Faculdade Santa Marcelina, organizado pela professora Maria Amélia Blasi de Toledo Piza. Ofereceu-me dois livros. Resenhei neste espaço “Botucatu Notas Musicais” (vide blog 02/11/2013). O segundo, “Por que amo Botucatu”, perdeu-se nas minhas estantes. Reencontrei-o ultimamente. De pequeno formato e não caudaloso, acompanhou-me nestes últimos dias. Crônicas amorosas, curtas, a reverenciar a cidade que Maria Amélia tanto ama (Por que amo Botucatu. São Paulo, Scortecci, 2003).
As crônicas, breves, pontuais, com contornos singelos, pueris talvez, retratam fielmente a figura de Maria Amélia, generosa na amizade, estimada pela sociedade local e no meio universitário. Seus trabalhos acadêmicos, dissertação de mestrado e tese de doutorado, versaram sobre os artistas plásticos descendentes do compositor Henrique Oswald. Defendeu-os junto à UNESP. Magníficos contributos. Abordei essa valiosa contribuição no post mencionado.
“Por que amo Botucatu” está disposto em 67 breves crônicas, nas quais Maria Amélia focaliza situações vividas, mormente na infância e na juventude. Perpassa basicamente as situações possíveis de um cotidiano que se perdeu com o tempo, pois os relacionamentos em todos os níveis mostravam-se diretos, sem subterfúgios. Alguns exemplos desse dia a dia repetitivo retirados da coletânea de crônicas, mas ricos em afetos, merecem ser citados: Zula, uma pagem especial, Os doces da Serafina, A Padaria Esmeralda, Tchocolates, Palanque na praça, Procissão do Encontro, Seu Germano pipoqueiro, A Selaria São José, Retiro espiritual no colégio, A estação de trem, Tradição pianística, Aula de pintura, A banda do Salim, Flores de cerejeira, Professoras de piano, O galinho da Aparecida, Um Conservatório na cidade, Filmes em casa e tantos outros. Vê-se que Maria Amélia exerce o dom da observação, pois contempla a sociedade como um todo, e o olhar pormenorizado leva à lembrança reveladora do interior da autora. Dedicar-se-ia à pintura, à música e à vida acadêmica.
Entre as crônicas, a leitura de delicado texto O Thesouro da Juventude levou-me à considerações sobre nossa geração, que sorveu a coletânea com avidez. Abordei em blog bem anterior (vide “Thesouro da Juventude”, 17/10/2009) a rica enciclopédia juvenil e meu apego à coleção que meus pais me ofereceram na adolescência, conduzindo-me a tantas “descobertas” durante a leitura integral dos 18 volumes. Sob outra égide, com uma sensibilidade plena, Maria Amélia dedica-lhe uma crônica que ratifica o fascínio que o “Thesouro da Juventude” exerceu sobre gerações. Transcrevo-a na íntegra, após a autorização da autora:
“Havia um programa que meu irmão Francis e eu gostávamos muito de fazer, embora sofrêssemos por isso: era ir à consulta com o Dr. Júlio Lorenzon. Ele era excelente dentista e morava numa casa à Rua Amando, poucos metros acima do Bosque.
Era uma casa mais moderna do que as que a circundavam, e tinha uma fachada bem art-nouveau, embora fosse colada às vizinhas e alinhada com a calçada. Uma das janelas era do gabinete dentário.
Logo à porta de entrada havia um porta-chapéus, com um ou dois do próprio Dr. Júlio pendurados, que era costume só se sair à rua com paletó de terno, gravata e chapéu. A família dele era composta da esposa, dona Clotilde, e três filhas: Martha, Nazareth e Juilde.
Lá todos gostavam muito de ler, e justamente numa sala anexa havia uma estante cheia de livros, que sempre olhávamos gulosamente de longe, até que dona Clotilde teve a ideia de nos dizer para ler alguns deles, enquanto aguardávamos nossa vez de ser tratados.
Foi assim que passamos pelos contos de fadas russos, alemães, franceses, e quantos mais estavam lá. Até que um dia pegamos um daqueles volumes encadernados em azul escuro-acinzentado, com o título em dourado: ‘O Thesouro da Juventude’. Sim. thesouro, com h, que a reforma ortográfica era pois recente, e muita gente tinha os livros na ortografia antiga. O livro correspondia a uma enciclopédia de variedades, com informações, curiosidades, jogos, reportagens sobre a vida natural do planeta, extravagâncias de outros povos, contos, lendas de vários países e muito mais. Foi como uma janela, levando-nos do mundo de ficção para outro em que a realidade era a existência de pessoas inteligentes em todas as partes do globo (Quando poderíamos imaginar?).
Quando o Dr. Júlio disse que o tratamento havia acabado, ficamos muito sem jeito, sem coragem de lhe dizer que ainda não conhecíamos nem metade dos volumes da Coleção. Mas aí o Francis apontou a estante e perguntou: podemos voltar para ler? O dentista achou a maior graça, chamou dona Clotilde e combinamos que ela emprestaria um volume por semana para nós, que levaríamos outro quando o primeiro fosse devolvido. Foi a maior festa. A Juilde era minha coleguinha no Santa Marcelina, e também excelente leitora, bem como suas irmãs Martha e Nazareth, que víamos sempre no Colégio. Por isso aquela estante era mesmo uma tentação.
Por muito tempo fizemos essas visitas regulares à estante do Dr. Júlio, até que lemos todinha a coleção. Meu pai procurou em vários lugares de São Paulo, mas a coleção estava esgotada. Alguns anos depois, um viajante da Editora José Olympio passou em casa e mamãe nos fez a surpresa de apresentar uma caixa enorme com a coleção do ‘Tesouro da Juventude’. Pronto, já não tinha o ‘h’, nem a graça que lhe conferia o privilégio de sermos atendidos com tanto carinho pelos dois, o Dr. Júlio e dona Clotilde, abrindo a janela da sala para termos mais luz e escolhermos à vontade o que queríamos ler…”.
Foram várias os livros de crônicas que apresentei ao leitor desde Março de 2007. O gênero é um dos mais agradáveis da literatura, pois apreende a síntese da observação, descrevendo-a, compartilhando-a com o leitor, tornando-o cúmplice. O instante do acontecido desfila no texto, atravessa o tempo e se instala nas poucas páginas que o abriga. Maria Amélia consegue a magia da comunicação e o leitor, brindado, desfruta das décadas vividas pela autora, tendo em acréscimo o privilégio de penetrar no âmago de uma cidade do interior paulista tão rica em tradições. “Por que amo Botucatu” é um pequeno volume, uma joia rara.
My comments after reading the book “Por que amo Botucatu” (Why I love Botucatu), written by the retired university teacher Maria Amélia Blasi de Toledo Pisa. In a series of short narratives, the author recollects events — occurring mostly in her childhood and youth — of her life in the city of Botucatu. I transcribe in full the story entitled “Thesouro da Juventude” (The Treasure of Youth), in which Maria Amélia confirms the appeal this encyclopedia has had to readers of my generation (I’ve already addressed this subject in my blog), allowing us to learn and imagine beyond our immediate and factual environment. On the whole, a delightful book, reminding us that “other times, other manners”.