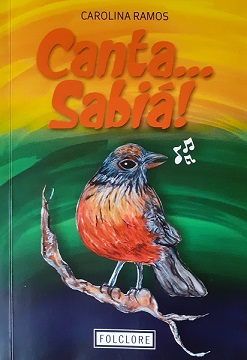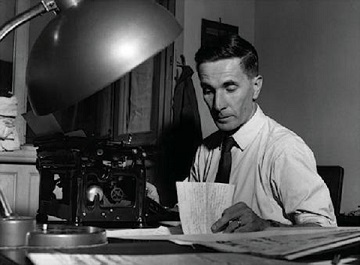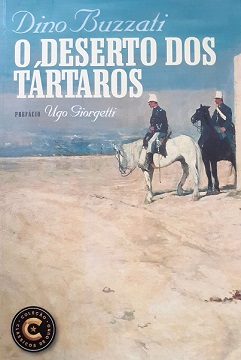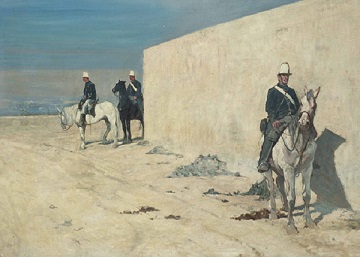Um livro referencial de Carolina Ramos
“Canta… Sabiá!” não é, somente,
manifestação poética da inteligência de Carolina Ramos, sua autora.
É, também, canto lírico do seu coração entoado em florilégios,
como saudação à Pátria,
brindando a alma brasileira com o que há de mais belo
na criatividade dos seus sentimentos patrióticos.
Domingos Trigueiro Lins
(Academia Santista de Letras)
A autora, natural de Santos, tem obra consolidada como escritora e poetisa, sendo também artista plástica e musicista. Seus livros abordam contos, contos natalinos, poesias, trovas e biografias. Membro de várias Academias de Letras, presidiu a UBT – União Brasileira de Trovadores Seção de Santos, de 1968 a 2018.
Carolina Ramos compareceu ao meu recital derradeiro na Pinacoteca Benedicto Calixto, em Santos, no dia 31 de Agosto e me ofereceu um dos seus livros, “Canta…Sabiá” (Santos, Folclore, 2021).
“Canta…Sabiá!”, ao abordar extensa pauta em seus capítulos, percorre de maneira plena as nossas raízes autênticas. Os dois primeiros capítulos são dedicados ao folclore. Define o folclore, sua importância nas Artes, estende-o ao Brasil em suas múltiplas manifestações, penetrando a seguir no mapeamento a abranger os Estados brasileiros. Didaticamente, nessas premissas Carolina predispõe o leitor a conhecer o que há de mais precioso da cultura popular perpetrada em sua abrangência no Brasil. Não o faz sem o auxílio de vasta bibliografia, que dimensiona suas apreciações pessoais. Menciona largamente os autores que a precederam nesse incansável labor.
Um terceiro capítulo encanta pela riqueza de uma temática que, ao correr do tempo, tem sido basicamente relegada, não apenas pelo açodamento de outros derivativos, que de maneira avassaladora obliteram tradições perpetradas pela oralidade. O advento da era internética trouxe consigo transformações de hábitos, deterioração da linguagem e desinteresse pelas raízes autênticas do povo. Carolina resgata com carinho, em pequenos subcapítulos, provérbios, parlendas e ditos populares, ditados e refrãos, trava-línguas, pregões, cantigas de ninar, cantigas de roda, superstições, amuletos, crendices e simpatias, adivinhas, frases de caminhões. É realmente um deleite a revisitação desse adagiário que ainda ecoa no de profundis de gerações. Conhecê-lo é entender a riqueza dessas tradições, infelizmente tantas delas estioladas.
O subcapítulo “Trava-línguas” é definido pela autora: “Trava-línguas é uma espécie de Parlenda com repetição propositada de sílabas difíceis de serem pronunciadas. Daí o nome a sugerir tal dificuldade”. Entre as várias citadas: “Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia assobiar?” Carolina Ramos insere três Trovas “Trava-línguas” de sua autoria:
Trava a língua… trava o passo,
trava todo o batalhão…
- quando a tropa troca o passo,
troca a paz… por confusão
Não tema que o tema eu tema,
temas não temo, porque,
que importa qual seja o tema,
meu tema é sempre:- Você!
Minha vida ganha impulso
e mais impulso ganho eu,
sempre que sinto o teu pulso,
pulsando junto do meu!
No quarto capítulo a poetisa se expõe: Poesias e Trovas de Sabor Folclórico, Saci-Pererê, O Riomar I, II e II, O Canto do Uirapuru, Paiquerê, Foguete de Lágrimas, Negrinho do Pastoreio, Café, A Morte do Verde, Lobisomem, Velho Rio, Por uma Noite… Rainha!, Protesto do Rio, Seca, Árvore, Ser Emília, Bumba-Meu-Boi, A História que a Fonte Contou, Cataratas do Iguaçu, Canção do Sertanejo, E o Carnaval Começa, Boiúna de Prata, Trovas, Personagens do Folclore, Ecológicas. E é Carolina Ramos a buscar inspiração nesse rico material da nossa cultura popular através da sensível veia poética:
“Café”
Cabeça erguida, a sugerir confiança,
num passo firme de quem não rasteja,
surge do solo fértil a pujança
do cafezal, promessa benfazeja!
Chega a florada! O verde que é a esperança,
pintalga-se de branco! E gira e adeja
a brisa à sua volta, igual criança
que nas flores o fruto já deseja!
E de rubis o cafezal se cobre!
Logo em seguida, sem clamor hostil,
é despojado do seu manto nobre!
E o seu aroma, cálido e viril,
vai perfumar o lar do rico… ou pobre!
- Café – sangue moreno do Brasil!
No quinto e último capítulo, Carolina Ramos, após perscrutar as profundezas das raízes do folclore pátrio, expõe uma deliciosa parcela de contos de sua lavra, “Contos Rústicos, Telúricos e outros mais”. Alguns temas já revelam, pelos títulos, a atenta observadora que dá asas à imaginação, alicerçada num convívio permanente com as manifestações genuínas de um povo ainda não contaminado pelo advento da internet e de suas múltiplas decorrências. Tem-se, nessa vasta temática, alguns títulos instigantes: “Velha Rixa”, “Palavra de bandido”, “Santinha”, “O ‘Meu’ Sanhaço”, “Zéco”, “Férias na Roça”, “O horror de uma queimada”, “Catatau”, “Zé Sanfoneiro”, “O conto contado”.
A leitura de “Canta… Sabiá!” leva-nos a deduzir que se trata de uma verdadeira enciclopédia, não acadêmica, diga-se, mas afetiva de nossas raízes mais profundas voltadas à hoje tão minimizada cultura popular autêntica. Carolina Ramos dedicou sua existência a captar o que há de mais sensível nessa gente simples, devota, responsável. Nela inexiste a palavra superficial. Tudo brota do persistir no culto das tradições dos antepassados, único caminho desse povo tão esquecido. Carolina Ramos atinge o âmago desses personagens sem rosto para a sociedade que, a cada geração, mais deles se distancia.
Recomendo vivamente “Canta… Sabiá”!. Faz-nos pensar, e muito…
Carolina Ramos, teacher, poet, writer, musician and visual artist, on her book “Canta… Sabiá!” unveils sensitive segments of Brazil’s rich folklore in its most varied manifestations. A reference book on this subject.